
22 jun Nem os nomes fazem sonhar
Foi um estupor. A aula acontecia numa sala comum e não dentro do laboratório, onde reações químicas seriam esperadas.
– Isso mesmo, o Rômulo que frequenta sua casa, vai ao cinema e anda na rua com você é um baitola. Se cuide. A cidade já começa a falar mal.
Senti-me chocado com a virulência do colega e primo Eufrásio de Brito. Nosso professor Padre Davi Moreira já tinha olhado duas vezes em nossa direção. Eu sentava uma fila à frente de Eufrásio, que repetia ao meu ouvido:
– Baitola.
O professor era músico, latinista, falava francês e espanhol e ensinava química. Sofrera tuberculose, uma fratura patológica do quadril, usava muletas e fora obrigado a deixar o violino porque cansava ao tocar. Agora aprendia o violão. Eu frequentava os aposentos do mestre, onde recebia noções de música erudita e ouvia os discos clássicos comprados por ele no reembolso postal. Os professores me achavam um aluno curioso, aplicado, atento às aulas e procuravam melhorar meus conhecimentos emprestando livros e conversando comigo. Padre Davi, ao estilo da Universidade da Califórnia, em Berkeley, recebia os alunos numa sala com portas e janelas abertas, devassável aos olhares curiosos que passavam pelo corredor. Era um homem sério e à frente de seu tempo, mesmo sendo um padre católico.
Comemoramos a chegada de Rômulo Oliveira ao nosso grupo de teatro porque ele pintava e desenhava bem, era um ótimo aderecista e figurinista. Em 1966 e 67, no Crato Ceará, se usavam cenários naturalistas, pintados em pano e papel e atores e atrizes ainda interpretavam com o ponto. Uma cafonice. Mesmo assim, que sucesso faziam as peças.
Rômulo baitola? Não dava a mínima para isso e sentia orgulho de ter um amigo tão talentoso. Mas a virulência da agressão me fez enxergar como eram tratados os gays de nossa cidade, os ai-ai, frescos, baitolas, frangos, braz, amulherados e veados, qualquer desses nomes ou piores. Passei a perceber os empurrões para a margem, a folclorização que os transformava em motivo de desprezo, chacota, sobretudo os mais pobres e de menor nível cultural. Os ricos e remediados se camuflavam, sabiam defender-se melhor, eram menos usados para saciar a volúpia disfarçada dos homens, numa sociedade machista, hipócrita e violenta.
Havia estratificação de papéis e profissões. Aos gays competia serem cabeleireiros, maquiadores, modistas, decoradores, cozinheiros, faxineiros, manicures, zeladores… Vitorino, gay preto, robusto, competia com duas cafetinas famosas, Glorinha e Maria Alice, donas dos cabarés mais frequentados pela boa sociedade masculina. A sua casa de prazeres se chamava Cabaré de Vitorino, tinha clientela das classes baixas e mulheres refugadas em outros bas-fonds. No carnaval de rua da cidade, Vitorino desfilava vestido de baiana em sua escola de samba, com peruca loura e seios postiços, o que representava uma ousadia sem igual.
Mas quem rodava a baiana mesmo era Capela, um gay que trabalhava no Cabaré de Vitorino, sempre de calça e blusa muito apertadas, cabelo oxigenado, alto, parrudo, de uma força física assustadora. Quando passava pela rua as pessoas gritavam Capela, Capela, Capela… Ele tomava ar e fechava o comércio. A polícia precisava intervir e só quem apanhava era o pobre Capela. Nenhum outro gay foi motivo de tantas anedotas e piadas.
Havia os gays respeitáveis, fechados em suas moradas, onde ofereciam serviços particulares. Professor Edmundo, a Baronesa, chamava-se assim pela idade avançada e pela aura de fama e respeitabilidade. Morava numa casa antiga, de pé direito quase alcançando o céu, com tapadeiras de sol em motivos marinho, o que consideravam extravagante e chamava atenção. Fora casado, tivera filhos, dava aulas de reforço aos alunos em recuperação. Contam que servia um vinho afrodisíaco aos pupilos, que os seduzia e levava para a cama, e que não era igual às outras pessoas, tinha no mesmo corpo as qualidades de homem e mulher, um terceiro deleite. O mistério nunca foi desvendado, a não ser pelo legista do cadáver, talvez.
Aguiar reproduzia pinturas renascentistas para as igrejas e particulares. Depressivo, fumava e bebia muito. Eu o visitava nos aniversários de morte de sua mãe, quando descia para uma estação no inferno. Punha discos de Libertad Lamarque a tocar, folheava velhas revistas Capricho e Sétimo Céu, revolvia a tralha que a mãe deixara depois do acidente de carro em que foi decapitada. Aguiar salvou-se com vida, mas nunca se perdoou por isso.
Rosenberg de Virgíneo era o cronista social e em sua numerosa família havia mais três filhos gays. Os rapazes bonitos da cidade saiam com ele em troca de dinheiro e de notinhas nas colunas. Valdinho Honor era quase mulher de tão feminino, mas nunca travestiu-se. Morava com a família, mas mantinha estúdio num edifício, para encontros com os namorados. Ele e Rosenberg causaram escândalo por usarem um bronzeador solar argentino, Rayto de Sol, coisa impensável para machos. A representação que faziam de misses comendo azeitona era impagável. Mas nada se comparava a Valdinho Honor imitando a dança da atriz estadunidense Debra Paget, no filme O Tigre da Índia, de Fritz Lang.
José Francisco era um gay sorridente, fazia faxinas. Tinha um harém de machos, sempre no seu encalço. Alvinho morava na Batateira, cantava, dava serenatas por encomenda, dentro de casa se vestia de mulher, dormia de camisola e enrolava os cabelos no bob. Braz, de tão famoso, o nome tornou-se sinônimo de gay. Era alto, magro, lazarento, bem representativo da classe miserável de onde provinha.
Contam, mas não sou capaz de jurar que foi verdade. Quando Cauby Peixoto foi cantar no Crato, hospedou-se na pensão de Seu Armínio Fragoso. Um dos rapazes mais belos e viris da cidade, filho de um médico otorrino, ofereceu-se para passar a noite com ele. Nunca soube o que aconteceu dentro do quarto quente e com apenas um ventilador. Mas a imaginação das pessoas teve panos para mil fabulações, mais do que Fellini no seu filme Amarcord.
Com exceção do pintor Aguiar, pintando obsessivamente retratos da atriz e cantora Libert Lamarque com fuligem de candeeiro, nenhuma das pessoas lembradas me parecia infeliz. Acho que administravam um poder de encantamento e sedução sobre os outros. À parte a hipocrisia sobeja, que não deixava os homens classificados normais assumirem seus desejos secretos, à parte o deboche e a desfeita para com a população gay, nunca aconteceram casos de violência física, a não ser nos enfrentamentos de Capela com os policiais. A pedofilia na Igreja Católica, se cobria de tantos véus que faltavam jornalistas dispostos a removê-los. Tudo acontecia sob as máscaras do respeitável e religioso.
No Recife, onde entrei em 1970 para o curso de medicina da Universidade Federal, um aluno de um ano anterior ao meu, homossexual, se matou. Foi massacrado pela turma de futuros médicos até o limite do auto sacrifício imposto. Na Casa do Estudante Universitário, também aconteceram vários suicídios por enforcamento. A repressão dos anos de ditadura era intransponível. Um tanto como hoje, só que agora há resistência, organização e luta da sociedade LGBTQIAP+.


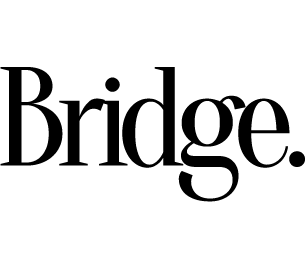
No Comments