
17 nov As fadas do Natal cratense
As três irmãs do alfaiate Zé de Rita não foram revolucionárias como Bárbara de Alencar, nem beatas milagreiras, iguais a Maria de Araújo. Descobri o nome da irmã mais jovem – Rosa – perguntando a pessoas antigas. Um achado nebuloso, envolto em dúvidas. As outras duas – ou seria apenas mais uma? – se perderam da memória. Não ganharam nome de praça, nem verbete em enciclopédia, apenas um lugar no cemitério, situado numa encosta de morro. Quando chove forte e há cheias, os ossos rolam dos túmulos para as ruas da cidade. Parecem suplicar que não as esqueçam ou dizer que sentem-se cansadas do repouso eterno.
Pergunto quem eu seria, sem a presença na infância dessas fadas rudes, feiosas, meio bruxas, que me vendiam figos. Lembrava os versos de uma história assombrada: jardineiro do meu pai, não me corte os meus cabelos, minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou, pelos figos da figueira, que o passarinho picou. Eu deixava a sala de projeção do cinema Moderno, onde via filmes igualmente assombrosos, e dava de frente com a casa de porta e janela para a rua, um jardim lateral resguardado por muro alto e portão, onde cresciam a árvore e os frutos misteriosos, impregnados de lembranças do Oriente e das Mil e uma noites.
O que alimentava minha curiosidade e fantasia não eram os frutos carnudos e sensuais, colhidos pelas mãos calosas das três irmãs – ou seriam apenas duas? –, mas o que elas criavam ao longo de um ano, mantendo-me refém da casa. Todo ano, no primeiro de dezembro, a morada da rua José Carvalho, que minha avó teimava em chamar pelo nome antigo de rua das Laranjeiras, escancarava a porta e as janelas da frente e expunha a miraculosa invenção das fiandeiras: um presépio parcialmente coberto de ramagens e trepadeiras, cercado de crótons, palmeiras, pés de jasmim e bogaris, tranças de cigana, avencas e roseiras. E sob essa gruta vegetal, que variava de tamanho dependendo dos recursos, da saúde e do tempo das parcas, via-se um presépio com a representação do imaginário popular sobre o nascimento do Menino Deus, acrescentado pelo delírio das velhinhas.
Os 37 dias em que as cenas do teatro imóvel ficavam expostas não eram suficientes para eu desvendar lugares sombreados, abismos, reentrâncias, abóbadas celestes, lagos, escarpas, cidades, pontes, danças pastoris e os mais extravagantes personagens dos mundos animal, vegetal e mineral.
No mês de dezembro, as paineiras que ocupavam um canteiro central ao longo da avenida Duque de Caxias – antiga Travessa da Liberdade – enchiam a cidade com a lã branca de seus frutos. O Crato parecia uma cidade nevada, sendo ainda mais bela. Os capuchos de lã, arrastados pelo vento, cobriam casas, altares de igrejas e as panelas nas cozinhas. Um prefeito mandou cortar as barrigudas, alegando que elas emporcalhavam tudo. Eu não compreendo porque os prefeitos, vereadores, donos de construtoras e empreiteiras vivem destruindo as cidades, trocando os nomes das ruas, tornando-as feias, sem passado e sem história.
As três irmãs, que fadas miraculosas! Nunca soube de onde tiravam os recursos para a confecção do presépio. Pareciam tão modestas, não recebiam aposentadoria e o mano alfaiate levava o copo à boca bem mais do que a mão à máquina de costura. Sustentavam-se com quase nada! Mesmo assim, ofereciam de graça o espetáculo exuberante aos moradores da cidade. Sentadas em cadeiras de palhinha, sorriam orgulhosas com o espanto dos espectadores. Passavam o dia pastorando as visitas, que deixavam moedas num pires de vidro. Não sei qual delas se ocupava com o fogão, nem se cozinhavam ou se comiam. Talvez não comessem e se alimentassem apenas do êxtase, da generosidade da criação.
Com certeza, nenhuma delas ouviu falar na escritora dinamarquesa Karen Blixen, mas poderiam repetir a fala de um personagem. Na sua fraqueza e miopia, o homem acha que tem de fazer uma escolha na vida, e teme o risco que corre. Nós conhecemos o medo. Mas não, toda escolha é sem importância. Chegará a hora em que nossos olhos se abrirão e finalmente reconheceremos que a Graça não tem fim. É só esperar confiante para receber a gratidão. A Graça não exige nada. E tudo que escolhemos nos foi dado, e tudo de que desistimos nos foi concedido. Sim, teremos ainda de volta o que jogamos fora.
Para Avelina


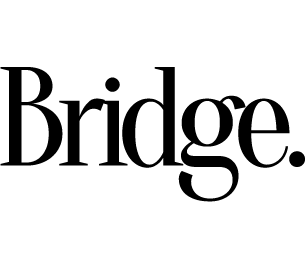
No Comments