
21 fev Cultura, nacionalismo, provincianismo e blá, blá, blá…
Alejo Carpentier acreditava que a grande tarefa do romancista americano seria inscrever a fisionomia das suas cidades na literatura universal, esquecendo-se dos tipicismos e costumes. Isso é o mesmo que tomar o partido de uma literatura urbana, negando espaço aos regionalismos.
Carpentier nasceu em Cuba, mas era um cidadão do mundo, sobretudo europeu. Esteve ligado aos surrealistas Artaud e Prévert, nos seus onze anos de exílio. Era culto, refinado, e como Jorge Luis Borges transitava com desenvoltura pelos mais variados temas. Sua ficção mergulhou fundo na realidade da América Latina, foi às entranhas da nossa história, mas não se deteve nessa proposta de urbanismo.
Numa passagem rápida pelo Recife, há alguns anos atrás, a coreógrafa alemã Pina Bausch recebeu homenagens, provou da nossa culinária, viu os grupos de dança popular, o Balé Grial e até submeteu-se a uma entrevista, coisa a que se dizia avessa, por conta da timidez. A bailarina e coreógrafa armorial Maria Paula Costa Rego, do Grial, foi quem abriu a conversa com Pina, afirmando sua procura de uma linguagem brasileira para a dança, inspirada nas nossas raízes negras, índias e ibéricas. Quis saber até que ponto Pina Bausch tomava como referência a cultura alemã para a criação do seu trabalho à frente do Tanztheater Wuppertal.
Pina confessou que buscava expressar os pensamentos e anseios dos homens de qualquer lugar do mundo, independente das suas nacionalidades. Afirmou sua recusa aos modelos estabelecidos pela dança, dizendo-se aberta a todas as sugestões. Que a música dos seus espetáculos ela mesma criava, ouvindo compositores de vários países e épocas. A descoberta do gesto novo de um bailarino podia redirecionar a construção do seu teatro-dança. E que tudo mudava, a cada dia, até a estréia, quando já acontecera de substituir-se a própria música, um pouco antes de abrir a cena.
Este culto ao impermanente, a constante rotação de emoções e imagens sugerem a ausência de um estilo. Mas Pina Bausch tinha um método de trabalho, que foi incorporado e imitado por outras companhias. Sua busca lembrava a afirmativa de Carpentier: “As nossas cidades não têm estilo. E, no entanto, começamos a descobrir que possuem o que poderíamos chamar um terceiro estilo: o estilo das coisas que não têm estilo.” Esse não estilo das cidades homogeneíza as culturas urbanas, fazendo São Paulo igual à Tóquio, Nova York, Londres e Berlim.
Pina e Carpentier põem em choque as motivações de muitos criadores nordestinos. Não abandonamos o regionalismo e ainda levamos a sério o pensamento de que o homem que canta bem a sua aldeia canta bem o mundo. Aspiramos à modernidade com um pé na tradição, como fizeram os primeiros modernistas pernambucanos, há oitenta anos. O grande êxodo rural, que mudou a feição do Brasil, fazendo dele um país urbano, aconteceu muito recentemente. Carregamos as marcas da tradição oral e dos brinquedos populares. O campo veio para as cidades grandes, mas ficou nas suas periferias, nos morros e mangues.
Vivemos um apartheid social e cultural. A mistura dos três povos pode ter acontecido no sangue, mas permanecemos divididos em ricos, pobres e miseráveis. Temos uma das piores distribuições de renda do mundo. Olhamos a arte popular na dança, na música, na pintura e no teatro, acreditando na possibilidade de um sincretismo com a arte chamada culta, da classe rica, resultando um filho híbrido, de feição morena, brasileiro. E enquanto se busca afirmar essa cultura mestiça, hasteando sua bandeira, o povo que a produz permanece analfabeto, consumido pela fome, as doenças e a violência.
Alimentamos um velho sonho nacionalista – que já morreu para o resto do mundo – de criar uma arte universal partindo de matrizes brasileiras. No Nordeste, essas matrizes são predominantemente ibéricas, negras e índias. A nossa indigência econômica e cultural não nos dá a liberdade de transitar pela cultura de todos os povos, como faz Pina Bausch.
Sofremos um complexo de castrados, fruto de anos de colonialismo. Quando Picasso buscou inspiração na arte primitiva africana, foi porque na França e na Espanha ela já não existia. No entanto, ele não recusou o direito de usá-la. A formação em grandes centros, a convivência com artistas de outras nacionalidades e o contato com várias disciplinas contribuem para a formação de criadores mais cosmopolitas, com o estilo sem estilo de que fala Carpentier. Ainda estamos longe disso.
Por trás da emoção que marcou o encontro de artistas populares e de classe média com Pina Bausch, era possível a leitura de um subtexto, como dizemos no teatro. E o que se lia era o nosso deslumbramento pela arte daquela mulher famosa e aclamada, filha de uma Alemanha rica e poderosa, que produziu muitos outros gênios, além de um louco como Hitler.
E ao mostrarmos nossa dança, maracatus e caboclinhos, com um misto de timidez e orgulho, parecíamos implorar a validação do que fazíamos, um reconhecimento que só tem significado se vier de fora. Evito lembrar os nossos índios das Reduções, esforçando-se em parecerem com os colonizadores europeus. Porque ao mesmo tempo em que nossos artistas iam às lágrimas diante de Pina e do que ela representava, faziam questão de parecerem pernambucanos.
Ronaldo Correia de Brito


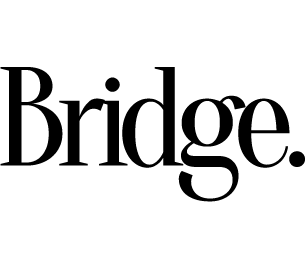
No Comments